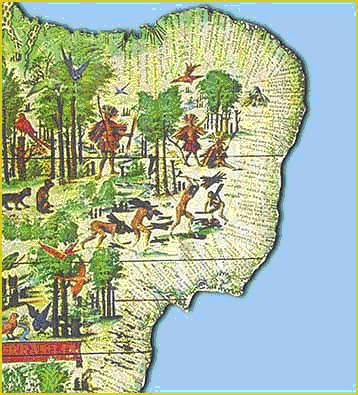Com o tempo, as plantas dos primeiros estágios vão cedendo lugar a Vochysia
nas comunidades Alto-Montanas e os gêneros Cariniana, Virola, Xylopia e muitas
outras na comunidade Montana. Nas encostas da Serra do Mar e ramificações
da Serra Geral, no Estado de Santa Catarina, as espécies que dominam são Miconia
cinnamomifolia (DC) Naudin, Hieronyma alchorneoides Allemão, Xylopia brasiliensis
Spreng., Nectandra lanceolata, Ness, entremeadas por densos agrupamentos de
Esuterpe edulis Mart. Em fase mais evoluída da floresta secundária, começam a aparecer
Ocotea catharinensis Mez e Aspidosperma pyricollum Müll. Arg., caso exista germoplasma nas proximidades. É o que se chama popularmente “capoeirão”, segundo Veloso (1945) (IBGE, 2012).
Tabarelli e Mantovani (1999) afirmam que, diferentemente de outras florestas tropicais, a Mata Atlântica das encostas tem seus estágios iniciais dominados por espécies anemocóricas. No entanto, ao longo do tempo, ocorre a entrada de espécies zoocóricas, dispersas principalmente por pássaros generalistas consumidores de sementes pequenas; estas espécies vegetais pertencem principalmente às famílias Myrtaceae, Melastomataceae,
Rubiaceae, Monimiaceae, Flacourtiaceae,
Myrsinaceae, Araliaceae, Olacaceae e palmeiras
do gênero Geonoma.
Liebsch, Marques e Goldemberg (2008), comparando 16 áreas de Mata Atlântica no sudeste brasileiro, mostram que as florestas mais jovens são dominadas por espécies de ampla dispersão, comuns a outras tipologias vegetais, como Hyeronima alchorneoides, Alchornea triplinervia e Guapira opposita. O avanço da idade leva a um aumento na proporção das espécies exclusivas da Mata Atântica.
Liebsch, Marques e Goldemberg (2008), comparando 16 áreas de Mata Atlântica no sudeste brasileiro, mostram que as florestas mais jovens são dominadas por espécies de ampla dispersão, comuns a outras tipologias vegetais, como Hyeronima alchorneoides, Alchornea triplinervia e Guapira opposita. O avanço da idade leva a um aumento na proporção das espécies exclusivas da Mata Atântica.
Oliveira (2002), em estudo realizado na Ilha Grande (RJ), mostra que a riqueza de espécies aumenta ao longo da sucessão, em idades que variam dos 5 anos (26 espécies) até a fase climáxica (134 espécies). No entanto, uma área de 50 anos possuiu riqueza inferior a outra de 25 anos, o que pode decorrer da substituição de espécies, flutuações populacionais e perturbações que são parte do processo sucessional. A espécie Lamanonia ternata. ocorreu em todas as fases estudadas. Nas áreas de ocorrência nas
áreas de 5 anos, 25 anos e 50 anos ocorreram Tabernaeontana laeta, Ilex integerrima,
Casearia sylvestris, Miconia cinnamomifolia
e Cabralea cangerana. Hieronyma
alchorneoides foi a única espécie deste estrudo que ocorreu simultaneamente
nas áreas de 25 anos, 50 anos e climáxica.
Em Nova Friburgo, Fraga et al. (2015) estudaram duas áreas, de 20 e 50 anos, e encontrou epécies em comum entre ambas: Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg, Casearia lasiophylla Eichler, Caseria sylvestris Sw., Dalbergia brasiliensis Vogel, Myrcia splendens (Sw.) DC., Myrsine umbellata Mart., Psidium rufum Mart. ex DC., Psychotria vellosiana Benth., Roupala brasiliensis Klotzsch e Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.. Em ambas áreas, mais de 70% das espécies pertencem a grupos de pioneiras e secundárias iniciais. Esta proporção é muito alta para floretas desta idade, o que pode indicar fatores externos interferindo no avanço da sucessão, como uso pretérito, distúrbios naturais e mesmo ação antrópica, o que pode ser causado pelo fato de serem fragmentos pequenos isolados em uma matriz agrícola.
Na mesma cidade de Nova Friburgo, Freitas e Magalhães (2013) estudaram aspecto estruturais e florísticos de parcelas com 1, 5, 7, 15, 35 e 70 anos. Foi encontrado um total de 87 espécies no estudo. Os autores encontraram forte similaridade entre as parcelas do início da sucessão, existindo maiores diferenças em relação ao estado intermediário e avançado. A floresta de 70 anos alcançou um alto índice de Diversidade, similar a formações maduras da região.
Santana, Freitas e Magalhães (2015), em estudo sobre a similaridade de florestas secundárias no Grande Rio, encontraram em áreas entre 7 e 35 anos de abandono, espécies como Piptadenia gonoacantha, Guarea guidonea, Sparattosperma leucanthum e Cecropia glaziouii ocorrendo com maior frequência. A riqueza variou de 7 a 35 espécies, e a diversidade ficou entre 0,85 e 2,634 nats/indivíduo. Os autores observaram forte influência da idade na riqueza e diversidade, embora o uso anterior influencie a composição de espécies.
A predominância de pioneiras e secundárias iniciais nestas florestas é característica marcante de estágios iniciais (Budowski, 1966; Finegan, 1996), onde um pequeno grupo responde pela concentração de atributos estruturais da floresta, com a presença de poucas famílias (Corlett, 1995). Esta característica tende a se diluir com o tempo, com o ingresso de espécies de grupos mais avançados e com diferentes histórias de vida (Cheung et al., 2010; Siminski et al., 2011).
Em Nova Friburgo, Fraga et al. (2015) estudaram duas áreas, de 20 e 50 anos, e encontrou epécies em comum entre ambas: Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg, Casearia lasiophylla Eichler, Caseria sylvestris Sw., Dalbergia brasiliensis Vogel, Myrcia splendens (Sw.) DC., Myrsine umbellata Mart., Psidium rufum Mart. ex DC., Psychotria vellosiana Benth., Roupala brasiliensis Klotzsch e Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.. Em ambas áreas, mais de 70% das espécies pertencem a grupos de pioneiras e secundárias iniciais. Esta proporção é muito alta para floretas desta idade, o que pode indicar fatores externos interferindo no avanço da sucessão, como uso pretérito, distúrbios naturais e mesmo ação antrópica, o que pode ser causado pelo fato de serem fragmentos pequenos isolados em uma matriz agrícola.
Na mesma cidade de Nova Friburgo, Freitas e Magalhães (2013) estudaram aspecto estruturais e florísticos de parcelas com 1, 5, 7, 15, 35 e 70 anos. Foi encontrado um total de 87 espécies no estudo. Os autores encontraram forte similaridade entre as parcelas do início da sucessão, existindo maiores diferenças em relação ao estado intermediário e avançado. A floresta de 70 anos alcançou um alto índice de Diversidade, similar a formações maduras da região.
Santana, Freitas e Magalhães (2015), em estudo sobre a similaridade de florestas secundárias no Grande Rio, encontraram em áreas entre 7 e 35 anos de abandono, espécies como Piptadenia gonoacantha, Guarea guidonea, Sparattosperma leucanthum e Cecropia glaziouii ocorrendo com maior frequência. A riqueza variou de 7 a 35 espécies, e a diversidade ficou entre 0,85 e 2,634 nats/indivíduo. Os autores observaram forte influência da idade na riqueza e diversidade, embora o uso anterior influencie a composição de espécies.
A predominância de pioneiras e secundárias iniciais nestas florestas é característica marcante de estágios iniciais (Budowski, 1966; Finegan, 1996), onde um pequeno grupo responde pela concentração de atributos estruturais da floresta, com a presença de poucas famílias (Corlett, 1995). Esta característica tende a se diluir com o tempo, com o ingresso de espécies de grupos mais avançados e com diferentes histórias de vida (Cheung et al., 2010; Siminski et al., 2011).